Título original: War of the Worlds
De: Steven Spielberg
Argumento: H.G. Wells, David Koepp
Com: Tom Cruise, Dakota Fanning, Justin Chatwin
Género: Dra, FC, Thr
Classificacao: M/12
Estúdios: Amblin Entertainment, Cruise-Wagner Productions, DreamWorks SKG, Paramount Pictures
África do Sul/EUA, 2005, Cores, 116 min.
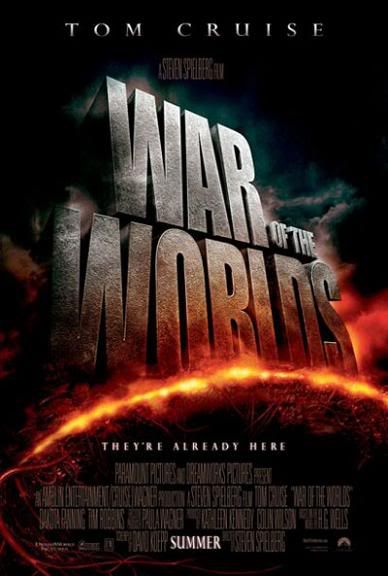
Steven Spielberg adapta à "A Guerra dos Mundos", o grande clássico de ficção científica de H. G. Wells, um olhar humano da invasão do planeta por extraterrestres através da experiência de uma família. Tom Cruise é o protagonista, Ray, um homem divorciado que, excepcionalmente, fica um fim-de-semana com os dois filhos, Robbie, adolescente, e a pequena Rachel. Mas as suas vidas vão mudar para sempre porque a Terra se transforma num palco de guerra, na sequência da invasão alienígena. E por mais que tentem fugir e esconder-se não há refúgio, mas Ray fará tudo para salvar os seus filhos.

A popularidade da novela de H. G. Wells não seria com certeza a mesma sem o fortíssimo contributo que para ela deu, em finais da década de 30, um jovem de 23 anos quase homónimo do escritor inglês. Orson Welles, chamava-se e a noite do dia 30 de Outubro de 1938 (noite de "halloween") foi quando milhões de americanos ficaram a conhecer esse nome.
A história é conhecidíssima. Orson Welles integrava o Mercury Theater, um grupo de teatro (onde se incluiam muitos dos actores que depois Welles levaria para o cinema) que tinha uma rubrica semanal na rádio CBS dedicada à encenação de peças teatrais ou dramatização de textos de outra índole. Para essa noite, a obra escolhida era a novela (velha, então, de 40 anos) de H. G. Wells sobre uma invasão extraterreste. A história passava-se originalmente em Londres e arredores, no final do século XIX, Orson Welles decidiu dramatizá-la como algo que se estava a passar "aqui e agora" - ou seja, algures em New Jersey, não muito longe de Nova Iorque, e naquela mesma noite.
Os ouvintes habituais da rádio (eram tempos, não esqueçamos, pré-televisão) já tinham alguma familiaridade com aquilo a que hoje se chamaria a "estética do directo", e a intenção de Welles, plenamente consciente, foi trabalhar dentro dessa estética, "ocupá-la" com teatro e com simulacro (ou, na sua própria terminologia, e como refere no seu filme sobre verdades e mentiras, "F for Fake", já nos anos 70, com "prestidigitação"). Mostrou aos seus actores a gravação da reportagem em directo do acidente do zeppelin "Hindenburg" (um dos primeiros grandes momentos do "directo" na rádio americana, em 1937) para lhes exemplificar o estilo de narração pretendido. E decompôs a história de Wells numa série de "flashes" informativos: ao longo de uma hora de emissão, o teatro transformava-se em "noticiário", num relato entrecortado da chegada e do avanço de hordas de marcianos que destruíam tudo o que encontravam pela frente. Os ouvintes, sobretudo os que falharam o início do programa (e perderam as referências à dramatização da história de Wells), entraram em pânico: duma audiência estimada em nove milhões de ouvintes, calcula-se que perto de dois milhões tenham reagido "activamente", fugindo, gritando, bloqueando as linhas telefónicas com chamadas para a polícia, etc. Até astrólogos da Universidade de Princeton (perto do local da suposta invasão) caíram na esparrela e levaram o assunto a sério.
O mundo descobriu o poder dos "mass media" como instrumento de manipulação simultânea de milhões de pessoas, e como fabuloso mecanismo de indução de pânico e alarmismo (lição que hoje é o bê-a-bá de qualquer canal de TV). Mas se Welles anteviu, em algumas décadas, o modelo de construção dos "directos" televisivos, as pessoas também aprenderam a desconfiar - três anos mais tarde, quando foi anunciado na rádio o ataque a Pearl Harbor e declaração de guerra ao Japão, toda a gente se lembrou de Welles. A Peter Bogdanovich (no livro-entrevista "This is Orson Welles"), o cineasta contou assim o dia 7 de Dezembro de 1941: "Estava numa emissão patriótica e foi interrompido a meio. Estava a ler passagens de Walt Whitman sobre quão bela era a América quando de repente há uma interrupção e é anunciado o ataque a Pearl Harbor - ora, aquilo parecia mesmo que era eu a tentar repetir a brincadeira". A incredulidade foi tal que Roosevelt, uns dias depois, enviou um telegrama a Welles comentando o caso, "something about "crying wolf" and that kind of thing". A linha entre "informação" e "espectáculo" fora definitivamente cruzada por Welles.
A popularidade da novela de Wells, portanto, está indissociavelmente ligada a Welles. A sua longevidade (quantos livros de ficção científica de 1898 dariam "blockbusters" em 2005?) em parte também, como consequência directa. Mas aí, há mais factores a ter em conta. O modelo narrativo de "Guerra dos Mundos", na sua simplicidade "arquetípica" (a Terra invadida por extraterrestres), estabelece um "medo básico" que ainda por cima facilmente se preenche com propriedades metafóricas. Sobretudo na segunda metade do século XX, inúmeros filmes de ficção científica americanos recriaram, com maiores ou menores variações, a situação elementar da novela de Wells. Só Byron Haskin, em 1953, e agora Spielberg, mantiveram o título e a referência expressa ao livro original, mas filmes como os três "Invasion of the Body Snatchers" (a versão de Don Siegel em 1956, a de Philip Kaufman em 1978 e a de Abel Ferrara em 1993), ou sobretudo o "Marte Ataca!", de Tim Burton e o "Dia da Independência" de Roland Emmerich são elaborações livres em torno da história de Wells. E isto para não falar em jogos de arcada e computador (haveria "Space Invaders" sem Wells?), nem nas incontáveis séries B americanas, dos anos 50 sobretudo, que glosaram o tema sob fundo de paranóia anti-comunista e medo do nuclear (a adaptação de Byron Haskin, em 1953, tem de resto muito a ver com este fundo): um inimigo externo, dissimulado, sem rosto identificável, que de repente está "dentro" e com rédea larga para a destruição total. A adaptação de Spielberg, pós-11 de Setembro, mostra que a função arquetípica da "Guerra dos Mundos" se limita a ir encontrando confirmações à medida que os tempos avançam.
Luís Miguel Oliveira, Público

Se as manobras da chamada Nova Hollywood - nos anos 70 - tiveram como estratégia de ataque o vasculhar do sótão da Velha Hollywood, recuperando géneros e reciclando-os à medida das (novas) apetências do público, poucos deles (desses "movie brats" e de outros autores dessa década que ainda sobrevivem: Coppola, Scorsese, Bogdanovich, DePalma...) mantiveram essa pulsão de ir direito à jugular do espectador com a revitalização dos códigos do que estava moribundo falando, com o espectáculo, das tensões do seu tempo.
Alguns a essa matriz regressam, como se necessitassem de encontrar uma parte perdida de si próprios (se quisermos andar para trás, chega-se à infância destes "fedelhos do cinema"...). Isto para dizer que não é de admirar se, nas primeiras sequências de "Guerra dos Mundos" - o mundo operário de New Jersey, onde conhecemos Ray (Tom Cruise), personagem que, dizia o argumentista David Koepp numa entrevista, "é como um daqueles tipos das canções de Springsteen: casou-se demasiado jovem, tem um emprego que odeia e ficou enterrado nesse limbo que o faz infeliz" -, formos assaltados pela estranheza: os "blockbusters" não têm esta rugosidade, pelo menos os "blockbusters" de hoje, os planos não se sucedem com esta implacabilidade que respira a tensão de uma personagem (e os "blockbusters" também não costumam interessar-se pelo meio operário).
Essa estranheza pode ser, afinal, a estranheza de um reconhecimento: isto era assim há décadas atrás e era assim nos inícios de Spielberg, por exemplo "Duel- Um Assassino pelas Costas", por exemplo "Tubarão". "Guerra dos Mundos" é, se não um regresso, pelo menos um contacto mais próximo de um realizador com o que foi decisivo para a sua formação - é um percurso evolutivo que o separa, por exemplo, de um contemporâneo seu, Martin Scorsese, que, pelo contrário, tem andado afastado (mas vamos ver o que ainda aí vem...) dessa espécie de pacto de fidelidade com as suas raízes e métodos.
Antes de fazer filmes, tudo para Spielberg terá começado na TV, no subúrbio, a ver Capra, DeMille e Ford, é claro, mas também ficção científica, filmes de Jack Arnold ("The Incredible Shrinking Man", "It Came from Outer Space", "The Creature from the Black Lagoon") ou Hawks ("The Thing"). Ou, mais decisivo, a série "Twilight Zone". O seu primeiro filme, registo amador de um adolescente, chamava-se "Starlight" e já olhava espantado para o que vinha do céu.
Para quem cresceu nos anos 50/60, o espectáculo da paranóia era o prato do dia, e talvez seja por isso que, mais do que "A Guerra dos Mundos", livro de H. G. Wells (que só leu em 1967), Spielberg tenha sido sensível às ressonâncias que lhe chegaram de "A Guerra dos Mundos", "espectáculo" que Orson Welles montou na rádio em 1938, com o seu Mercury Theater (com sede em New Jersey, aliás...), adaptando a novela de Wells e pondo a América a fugir por causa de uma invasão extraterrestre (há uma década, Steven comprou o guião original desse programa, escrito por Howard Koch, que escapara à rusga policial que se seguiu à emissão, e pô-lo orgulhoso em exposição no escritório).
Mais uma: não é por acaso que Spielberg se deixou seduzir por um projecto como "1941-Ano Louco em Hollywood" (1979), um dos seus filmes mais iconoclastas e mal amados, projecto inicialmente chamado "The Night the Japs Attacked" e onde ele encontrou ressonâncias com a "Guerra dos Mundos" de Orson.
Talvez seja por isso, finalmente, que em "A Guerra dos Mundos" Spielberg surja como alguns dos artesãos do passado - podemos não ir tão longe e parar no seu próprio passado, nos anos 70 -, capazes de ler os sinais do tempo e articulá-los a um "mood" contemporâneo, não recuando perante o "exploitation", investindo na concisão, que é um programa de economia de meios mas também programa estético e de olhar sobre o mundo (72 dias de rodagem, pouco para um filme desta dimensão e mesmo para um realizador rápido como Spielberg). E mostrando que o "cliché" do "filme à Spielberg" é, também por culpa dele, redutor, esquecendo coisas violentas, sobre a frustração do "american dream" ou a paranóia urbana, que já filmou.
É assim: Ray/Tom Cruise um daqueles homens em perda no cinema de Spielberg (versão socialmente delapidada do homem-criança interpretado por Richard Dreyfuss em "Encontros Imediatos do Terceiro Grau"), divorciado, vê-se a braços com uma tarefa de que sempre se alheou: proteger os filhos (Dakota Fanning e Justin Chatwin). É só isto, viagem de fuga, com invasão extraterrestre por trás. Sempre por trás, o que chega a ser anacrónico, apesar dos efeitos especiais - não é "O Dia da Independência", nem "O Dia Depois de Amanhã".
A descrição do deprimido mundo de Ray, com os laços familiares inertes, é tão agreste como o olhar sobre a cidade balnear de "Tubarão". E Ray é um exemplo de masculinidade derrotada, socialmente vencida, como a personagem do alegórico "Duel", filme que, juraríamos, Spielberg cita num dos "travellings" iniciais em que o ecrã é atravessado por camiões.
Nunca, quase nunca (porque há uma nódoa: a sequência com a personagem de Tim Robbins, na cabana, onde Spielberg aí sim, surge retórico e mole), se abandona este grupo em fuga e em construção, estas personagens que não encontraram, ou já perderam, os seus papéis: a relação entre pai e filha (Cruise e Dakota Fanning) é uma relação entre um homem e uma mulher - Dakota, actriz-criança-adulta, variação da Drew Barrymore de "E.T.", é espantosa -, com tons de aventura burlesca, como num filme de "Indiana Jones"; não deve ter sido por acaso que Spielberg deu a Dakota cenas com gritos de sustos como as que deu a Kate Capshaw, hoje a senhora Spielberg, em "Indiana Jones e o Tempo Perdido"...
E nunca, nem no final, só aparentemente "happy end" conciliador, Spielberg trai a crispação afectiva que aqui circula. Ray/Cruise continua sozinho, como uma personagem de "western" amargurado.
O terror vem do céu, numa espécie de negativo, como tem sido referido, de "ET" e de "Encontros Imediatos...", filme onde estava a "imagem central", assim Spielberg a definiu, do seu cinema, aquele plano do miúdo inundado pela luz do maravilhoso e do terrífico antes de ser raptado pelos "aliens" - juraríamos que Spielberg também o cita, e distorce, naquele plano de Dakota Fanning inundada pela luz, antes de ser raptada. Mas o que mete medo é a explícita, e já polémica, fantasmagoria convocada: roupa a cair do alto (os corpos das vítimas desaparecerem, fulminados pelos "aliens), a paisagem coberta com um manto de sangue (os "aliens" sugam e depois espalham...), a poeira branca, dos destroços, no rosto dos sobrevivente... está-se a ver onde é que estamos, no 11 de Setembro. É assim, reformulando imagens de marca, variando o seu potencial metafórico, que Steven Spielberg põe de fora as garras que afiou durante a sua educação no solitário subúrbio como espectador televisivo de "exploitation movies" e outras bizarrias.
Vasco Câmara, Público
